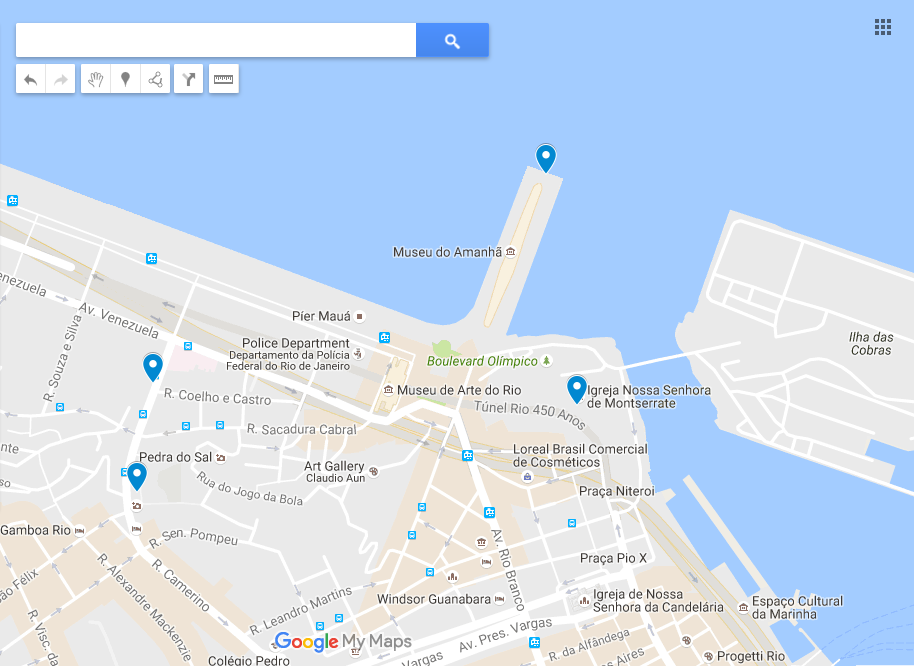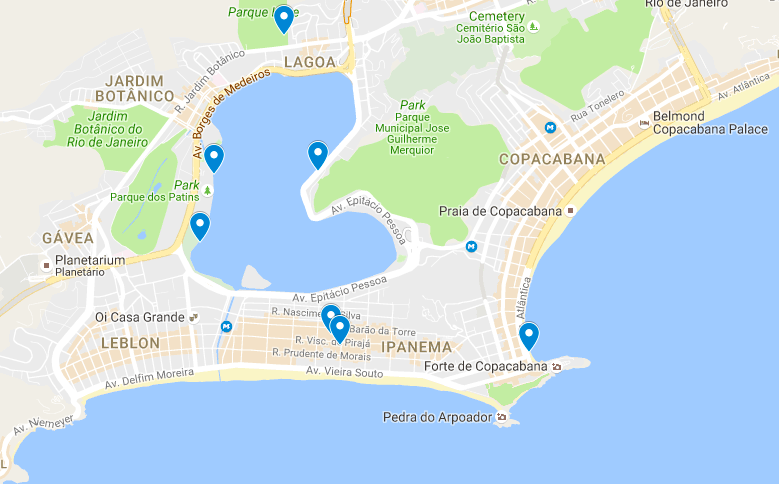O anúncio da primeira edição brasileira do festival holandês Dekmantel em 2017 foi boa notícia para os fãs de música eletrônica: com a instabilidade e genericidade de outros festivais do gênero, um evento que traga artistas de uma vertente mais aventurada da dance music é um prato cheio. Mas a divulgação da primeira metade do line up instigou uma discussão mais profunda e extensa no evento do festival no Facebook, que se centralizou numa questão levantada pela produtora paulistana Érica Alves: onde estavam as mulheres brasileiras no line up?
Das dezenove atrações inicialmente divulgadas pelo Dekmantel, quatro são mulheres. Uma sul-americana. Nenhuma brasileira. Os comentários no tópico de Érica seguiram diferentes lógicas para tentar justificar o injustificável desequilíbrio do line up, mas o que mais me chamou atenção foi um parecer bizarramente recorrente: “mas o festival é pra curtir a música, não para protestar”.
Não é preciso explicar porque tal declaração contradiz toda a história da dance music. Desde seu surgimento, a música eletrônica foi elemento fundamental de formação identitária e organização política de grupos negros e LGBT nos Estados Unidos e Europa, em diversos momentos — a música disco de Nova York nos anos 90 e o techno de Detroit nos 80, por exemplo. O mesmo não aconteceu, no entanto, com as mulheres enquanto classe.
O resultado é previsível. Não só no Dekmantel: o Sónar, por exemplo, autoproclamado entusiasta da “música avançada”, em edição reduzida no ano passado escalou apenas uma mulher (a chilena Valesuchi). Mulheres foram e são sistematicamente excluídas de espaços que envolvem música eletrônica ou experimental. Esse desconforto, portanto, passa longe de ser só da Érica, ou só meu — é uma situação experimentada por todas as mulheres que fazem parte desses nichos de alguma forma.
Lembro-me de, numa conversa com a produtora e improvisadora Natacha Maurer, ouvir que ela e a compositora Renata Roman tinham o costume de contar quantas mulheres estavam assistindo e quantas estavam se apresentando em eventos de música experimental. O incômodo as levou a criar o Dissonantes, ciclo mensal de apresentações protagonizadas por mulheres que elas estendem ao Novas Frequências.
O projeto é mais um dos muitos que surgiram nos últimos anos e que tocam na mesma questão, como o ciclo internacional de compositoras Sonora, a mostra de improviso de mulheres XX e o workshop de inclusão feminina na música eletrônica Synth Gênero. As iniciativas realçam a importância das mulheres estarem, também, por trás das cenas. Festivais como o Novas Frequências e o Festival Internacional de Música Experimental, que contam com produção e/ou curadoria femininas, mostram um equilíbrio bem maior que os grandes Sónar e Dekmantel. A mudança, com o perdão do clichê, vem de nós para nós.
No livro A Garota da Banda, a ex-baixista do Sonic Youth Kim Gordon comenta que, enquanto aos homens (os transgressores) é atribuído o papel de pensar fora da caixa e de inovar, às mulheres (as cuidadoras) resta o de zelar pelo mundo como ele é. Portanto, a arte, inerentemente transgressora, não é “coisa de mulher”. Esse dogma se multiplica quando a forma de arte em cheque é a música dita de vanguarda: além do fator artístico, a música eletrônica engloba também o fator tecnológico — duas ferramentas encaradas como tipicamente masculinas.
A dificuldade histórica de inserção das mulheres nesse contexto não impede, obviamente, que a produção feminina de sons de vanguarda seja extensa. Pensando no Brasil de Chiquinha Gonzaga e Jocy de Oliveira, desde o fim do século passado as mulheres vêm trabalhando em expandir a pesquisa sonora experimental. A presença da classe feminina nessas manifestações artísticas não é importante apenas como questão política, mas também pela inserção de subjetividades, olhares, afetos e outros modos de se pensar, fazer e ouvir.
Na k7 cantar sobre os ossos, a artista sonora carioca bella se inspira no mito da Mulher Lobo da poeta Clarissa Pinkola Estés para empilhar 23 faixas de artistas femininas e cantar sobre elas; Carla Boregas e Ana Tokutake, no álbum Travessias do projeto Fronte Violeta, sampleiam um discurso da co-fundadora do movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. As vozes femininas se multiplicam nesses trabalhos. Não é uma questão de essencializar ou instrumentalizar o que seria um “olhar feminino” ou “abordagem feminina” na composição, e sim pensar linhas de fuga para a hegemonia do masculino, branco e Europeu da música de vanguarda (e da música em geral).
Mas se voltarmos nossos olhos para os festivais, os eventos e a (escassa) cobertura da mídia (mesmo independente e alternativa), os trabalhos dessas mulheres ainda passam despercebidos, esmagados por uma maioria masculina. A questão da presença feminina na música experimental é, também, uma questão historiográfica. As mulheres estão aqui, mas ninguém está contando suas histórias.
Com essa questão em mente eu criei o blog filhas do fogo, uma singela tentativa de buscar ouvir o que essas mulheres têm a dizer sobre suas memórias e seus trabalhos. Por forma de entrevistas e perfis, tento documentar a produção musical experimental feminina em São Paulo. É a forma que encontrei de ajudar essas mulheres a romper com um silêncio de décadas de exclusão.
Em seu álbum III, o Rakta fala de uma “Violência do Silêncio”. A autora e ativista feminista Adrienne Rich escreveu, num exercício metalinguístico do livro de poemas Arts of the Possible: Essays and Conversations, sobre as primeiras questões que devemos perguntar quando lemos um poema: “Que voz está quebrando o silêncio? E que silêncio está sendo quebrado?” Pretendo indagar o mesmo quando estiver assistindo às apresentações femininas no Novas Frequências.